+ Leitur@s | Os vivo e os outros, de José Águalusa
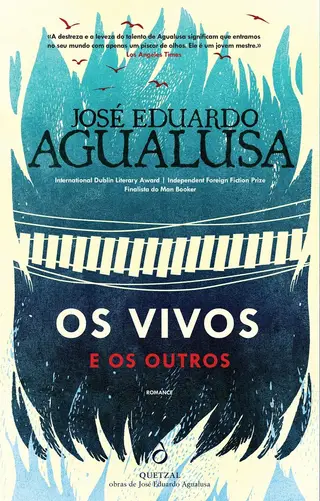
OS VIVOS E OS OUTROS
José Eduardo Agualusa
Quetzal, 2020, 252 págs
Isolados na Ilha de Moçambique, vários escritores africanos enfrentam o hipotético fim do mundo contando histórias. O novo livro de Agualusa lê-se como um hino ao poder genesíaco do verbo
TEXTO JOSÉ MÁRIO SILVA
Q
uando a ação de “Os Vivos e os Outros” se inicia, Daniel Benchimol — escritor e ex-jornalista angolano, em tempos especialista na investigação de desaparecimentos (personagem que já conhecíamos de outros livros de José Eduardo Agualusa, de quem talvez seja um alter ego bastante desfocado) — mora há três anos na minúscula Ilha de Moçambique, cidade insular a poucos quilómetros da costa, na província de Nampula. Mudou-se para ali por iniciativa de Moira, a artista que fotografava os próprios sonhos no romance anterior (“A Sociedade dos Sonhadores Involuntários”, 2017), por quem se apaixonou e de quem está quase a ter uma filha. Os dois vivem numa espécie de idílio. Quando ele volta da corrida matinal, ela espera-o com um copo de “sumo dos nossos limões”. Quando o calor se torna insuportável, levam a cama para o terraço e dormem ao relento, por baixo das estrelas. “O amor é o que acontece à paixão depois que a intimidade se instala” — diz-se logo na primeira página. “Isto, com sorte. Ele, Daniel, tivera sorte. Com Moira e com a ilha dela.”
Apesar da barriga de nove meses, a companheira de Daniel é a principal organizadora de um festival literário que junta, naquela espécie de huis clos paradisíaco, um grupo heterogéneo de escritores africanos. Aos poucos, vamos conhecendo-os, enquanto se instalam e ambientam. De Angola chegam duas poetas: uma mais velha e provocadora, de linguagem desbragada, Ofélia Eastermann, que sonha com versos, anotando-os de manhã num caderninho batizado “Lixo onírico”; outra mais nova, mas nada tímida ou intimidada, Luzia Valente, filha de um escritor, ex-ministro e ainda deputado do “partido no poder”, com quem mantém uma relação difícil. Os representantes de Moçambique estão em extremos opostos: de um lado Júlio Zivane, intempestivo, atormentado, incómodo, um alcoólico entregue ao “suicídio lento”, autor de um primeiro romance fortíssimo sobre a experiência do pai num campo de reeducação, mas que depois só conseguiu escrever versões sucessivas dessa mesma história; do outro, Uli Lima Levy, homem plácido que quase não bebe, sábio de modos agradáveis e jeito manso de falar, sempre zen, “em estado de domingo”, capaz de seduzir até os interlocutores mais reticentes. Há ainda um contingente nigeriano, que inclui a convidada principal do festival, Cornelia Oluokun, em cujo perfil de estrela que vive em Nova Iorque, com direito a adiantamentos milionários, é impossível não reconhecer qualquer coisa de Chimamanda Ngozi Adichie; e Jude D’Souza, escritor “paisagista”, viciado em redes sociais, sempre a publicar fotos no Instagram, autor de um só romance, sobre Lisboa “mas vista através do olhar de um africano”, uma “paródia da autoficção” que segundo o próprio foi levada demasiado a sério.
Águalusa sente-se como peixe na água na procura de um embate entre a ordem do maravilhoso e a banalidade do quotidiano
Ele próprio participante regular em encontros literários, um pouco por todo o mundo, Agualusa conhece bem o funcionamento dos microcosmos culturais e dá-nos a ver o modo como os escritores interagem neste tipo de situações. Mais do que nas sessões de debate abertas ao público, as ideias esgrimem-se junto à piscina do hotel ou à mesa do restaurante, onde muito se teoriza e partilha, muito se cobiça, muito se inveja, entre máscaras que caem e verdades reveladas. Para resolver a tensão do huis clos, um escritor policial introduziria a páginas tantas um crime, um homicídio. Agualusa, mais ambicioso, lembrou-se de uma ameaça de outro grau: o fim do mundo. Ou algo que se lhe assemelha.
Desde o segundo dia, uma tempestade com muitos relâmpagos ocupa o céu ao longe, escondendo o continente, mas só quando os telemóveis perdem o sinal, e a internet deixa de funcionar, é que os escritores começam a preocupar-se. Mais do que o isolamento físico, é o isolamento informativo que assusta. A partir do momento em que nos desligamos do resto do mundo, nada nos garante que o resto do mundo continua a existir. Para piorar as coisas, a longa e estreita ponte de três quilómetros que dá acesso à ilha parece inútil. Ao contrário do bulício habitual, deixou de haver travessias de lá para cá. E quem é enviado de cá para lá não regressa.
Durante uma semana, a ilha de Moçambique fecha-se sobre si mesma e abre-se às mais rocambolescas possibilidades. Cornelia Oluokon, por exemplo, que já estava arrependida de vir ainda antes de chegar, acredita que na verdade estão todos mortos — ou seja, no inferno. Há quem veja no impasse um limbo, um purgatório: “Não sairemos daqui enquanto não nos reconciliarmos uns com os outros e sobretudo com os nossos fantasmas.” Alguns, mais prosaicos, assumem-se “náufragos” e agem em conformidade. Os escritores, mesmo os bloqueados, voltam à escrita. Não interessa se o que está a acontecer é um “pesadelo”, uma “ilusão prodigiosa” ou “apenas o universo exercendo os seus mistérios”. Se algo acaba, é preciso encontrar energia para o recomeço. Depois de dar à luz a filha, um radical “princípio de mundo”, Moira oferece o mote, a palavra de ordem: “Os mundos germinam dentro da nossa cabeça, e crescem até não caberem mais, e então soltam-se e ganham raízes. A realidade é isso, é o que acontece à ficção quando acreditamos nela!”
Agualusa sente-se como peixe na água no registo fantástico, na procura de um embate entre a ordem do maravilhoso e a banalidade do quotidiano. Por isso encontramos, em “Os Vivos e os Outros”, personagens que saltam das páginas dos livros e dialogam com os seus criadores; um homem que anda pela rua com um ganso cego chamado “Destino”; uma mulher que ficou presa a um único dia do mês de março de 1974 (e por isso continua a ver, todas as manhãs, o poeta Rui Knopfli no café Âncora d’Ouro), uma de várias manifestações da “engenhosa ilusão que é a passagem do tempo”. Há também muitos sonhos e talvez uma parábola.
Na escrita de José Eduardo Agualusa, como em Uli Lima Levy, encontramos uma pura “alegria da efabulação”, esse atributo que “se perdeu em boa parte da literatura europeia contemporânea, mas não aqui, em África”. A ancestral arte de contar histórias está bem viva na Ilha de Moçambique, permitindo descobrir “a beleza brotando da lama”. E resgatar, intacta, a esperança. Mesmo depois dos maiores desastres. Como os meninos que pegam em pás para escavar o lodo, dizendo: “Estamos a desenterrar o país.”
José Mário Silva. E-Revista Expresso, Expresso, Semanário #2490, 18 de julho 2020
Comentários
Enviar um comentário